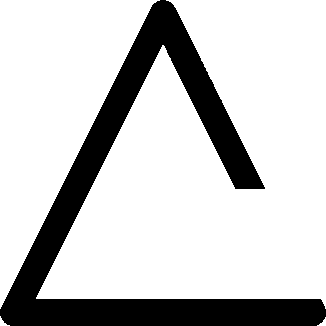“Sinto-me muito revoltada porque parece que lei favorece os maus, os ruins, os psicopatas”, diz a mãe de uma das vítimas
O afegão Abdul Bashir, que matou em 2023 duas mulheres e feriu três homens no centro Ismaili, em Lisboa, pode ficar em liberdade já em agosto deste ano. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que encontrou erros na forma como o tribunal de primeira instância não permitiu que Abdul se defendesse condenando-o a 25 anos de cadeia, poderá levar ao esgotamento da prisão preventiva. Imputável, como já o considerou o coletivo de juízas, ou inimputável, como insiste a defesa e o próprio Ministério Público, dificilmente alguém discordará que o arguido é muito perigoso. “Sinto-me muito revoltada porque parece que lei favorece os maus, os ruins, os psicopatas”, reage Carla Jadaugy, mãe de uma das vítimas.
O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou que a alteração que o tribunal de primeira instância fez à acusação do Ministério Público – de inimputabilidade para imputabilidade do arguido Abdul Bashir – não lhe foi comunicada a tempo e horas para lhe permitir uma real e efetiva defesa. “(…) está em causa uma qualificação jurídica, totalmente distinta, inconciliável, mesmo, daquela que o arguido considerou na preparação da sua defesa. Se assim é, está mais que justificada – mais que a possibilidade – a absoluta necessidade de concessão de uma possibilidade de defesa, recentrada agora na possibilidade de condenação como imputável e, já não como inimputável, como aponta a acusação pública”, vincou o juiz conselheiro relator Ernesto Nascimento no acórdão de 68 páginas sufragado pelos juízes adjuntos Vasques Osório e Adelina Barradas de Oliveira.
Datado de 12 de fevereiro passado, o acórdão da 5ª Secção do STJ veio dizer algo que deveria ser óbvio em termos penais para um tribunal de primeira instância: “O arguido não pode ser surpreendido com uma nova linha de pretensão punitiva, por si desconhecida, sem que lhe seja dada a oportunidade de, previamente, a contraditar”. E para o STJ, o contraditório num julgamento só tem sentido útil se for exercido de forma a poder influenciar, verdadeiramente, a decisão do Tribunal, mesmo quando se trata do mediático caso do duplo homicídio à facada ocorrido no Centro Ismaili, em Lisboa.
Neste caso em concreto, que culminou em junho do ano passado com a condenação do arguido como imputável na pena única de 25 anos de prisão, o Ministério Público (MP) tinha acusado Abdul Bashir como inimputável, indicando que lhe deveria ser aplicada uma medida de segurança num hospital prisão nunca inferior a três anos. O tempo máximo previsto na lei penal portuguesa, mas que pode ser sujeito a reavaliações e a idênticas medidas de segurança até ao prazo máximo de 25 anos se os peritos considerarem que a pessoa em causa ainda não está curada ou tem a doença controlada.
Com esta decisão do STJ, o caso do homicida do Centro Ismaili ficou centrado numa questão muito prática: o tempo. Se o tribunal de primeira instância não se despachar a reabrir o julgamento, a cumprir todas as fases necessárias à defesa do réu, a proferir uma nova sentença e se não se tiver atenção aos eventuais recursos e à decisão final do Supremo, um perigoso homicida pode ser solto a meio de agosto deste ano devido ao fim da prisão preventiva. Um problema que ainda assim poderia ser bem maior, porque o STJ considerou de forma algo surpreendente – segundo vários juristas e magistrados do MP contactados pelo Exclusivo TVI/CNN Portugal que solicitaram o anonimato – que não houve uma alteração substancial da qualificação jurídica, ou seja, os juízes conselheiros disseram que não foi descaraterizada a acusação do MP pelo tribunal julgamento. Se assim fosse, e o arguido não tivesse sido notificado e exercido a respetiva defesa, o STJ tinha de ordenar a imediata libertação de Abdul Bashir, que hoje se encontra numa prisão comum, desconhecendo a TVI/CNN Portugal se está sujeito a algum tipo de tratamento ou medicação.
Já sobre as contas sobre os prazos legais da prisão preventiva, estas são relativamente fáceis de fazer. Nos processos de excecional complexidade e sem decisão condenatória como é o caso, o tempo da prisão preventiva não é interrompido e só pode durar o máximo de 3 anos e 4 meses. Como os crimes no Centro Ismaili ocorreram na manhã de 28 de março de 2023, o dia em que as assistentes sociais Farana Sadrudin e Mariana Jadaugy foram mortas com dezenas de facadas pelo refugiado afegão, o prazo deveria contar a partir da detenção para interrogatório. Mas como Abdul foi ferido com um disparo numa perna feito por um agente da PSP e ficou internado no hospital, esse tempo não contou formalmente para a prisão preventiva. Assim, o afegão só terá sido sujeito em abril (em data que não conseguimos apurar) à medida de coação de prisão preventiva, pelo que o prazo deverá terminar a meio do próximo mês de agosto.
Rogério Alves, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, confirma que este caso se arrisca a ser mesmo um “imbróglio” se for atingido o limite de tempo da prisão preventiva, obrigando os tribunais a libertar o autor das duas mortes no Centro Ismaili. O advogado concorda também que essa possibilidade é um “choque para qualquer um” e “pode ser um perigo”, mas argumenta que a aplicação da lei “é vendada para ser imparcial e, às vezes, também promove este tipo de entorses que são riscos para a sociedade”.
O tribunal tem agora de reabrir o julgamento (será já a 3 de março, segundo apurámos) e a defesa do arguido poderá exigir a produção de novas provas. Mas caberá sempre ao coletivo de juízas deferir ou não tais iniciativas, ou seja, na prática o julgamento poderá apenas durar um par de dias ou algumas semanas ou meses. Depois, existirá um novo acórdão e, como o processo tem excecional complexidade, há mais 60 dias para os recursos. Mesmo que o MP não recorra (e deverá fazê-lo, mas já lá iremos), a defesa de Abdul recorrerá. Tal como já sucedeu antes, e porque os recursos do MP e da defesa não visaram matéria de facto, mas um eventual erro notório na apreciação da prova e nulidades numa condenação a pena superior a cinco anos, o processo deverá subir do Tribunal da Relação de Lisboa para o Supremo Tribunal de Justiça. E um novo acórdão terá de ser feito, desta vez centrado na grande questão se Abdul Bashir é imputável ou inimputável.
A mãe de uma das vítimas morta com dezenas de facadas, Mariana, não se conforma que tudo o que se está a passar. Em entrevista ao Exclusivo da TVI/CNN Portugal (ver vídeo), Carla Jadaugy diz-se chocada com a possibilidade de libertação do assassino da filha. “Gostava que houvesse pena de morte em Portugal para este tipo de casos, sinto-me muito revoltada porque parece que lei favorece os maus, os ruins, os psicopatas”, desabafa.
A guerra dos peritos no julgamento
Este mediático processo tem sido marcado por uma guerra jurídica entre, por um lado, a defesa do homicida, vários psiquiatras e o próprio Ministério Público e, por outro, um psicólogo e um coletivo de três juízas que alteraram em pleno julgamento os pressupostos da acusação, desvalorizando inclusive parte das perícias e a opinião de peritos médicos que consideraram que Abdul era esquizofrénico, tinha alucinações e tinha de ser dado como inimputável. O tribunal de primeira instância não concordou com este diagnóstico e, suportando-se na opinião de um perito psicólogo e de outros indícios que constam no processo, considerou que Abdul é um psicopata com plena consciência dos seus atos e, portanto, imputável e merecedor ir para a cadeia com a pena máxima.
O acórdão do ano passado das juízas Cláudia de Melo Graça, Bárbara Gago da Silva e Margarida Alves, do Juízo Central Criminal de Lisboa, foi perentório na imputabilidade de Abdul Bashir. No documento de 149 páginas a que o Exclusivo da TVI/CNN Portugal teve acesso, é bastante claro que na decisão de condenação a prisão efetiva pesou a análise do psicólogo e perito forense Vasco Curado, que concluiu que o arguido, no momento da prática dos factos, estava a agir a coberto da sua personalidade e não de uma doença. Aliás, segundo o perito, os delírios que Abdul foi apresentando até ao julgamento seriam apenas “uma simulação”.
Vasco Curado entendeu que o arguido não é um delirante, mas sim um manipulador, um egocêntrico, salientando que nada no seu percurso “é típico de um esquizofrénico, mas sim de um psicopata manipulador”. O especialista da Unidade de Psiquiatria e Psicologia Forenses do Instituto de Medicina Legal chegou mesmo a garantir que, depois de ser detido e à medida que se sucederam as várias perícias, Abdul Bashir teria apresentado “um delírio muito florido (também indicador de simulação)”, dizendo que queriam-lhe tirar os órgãos, que Aga Khan não era descendente de Maomé e que nem era muçulmano. “O delírio exuberante é também um indicador de simulação, como se verifica quando o arguido refere (…) que invejavam os seus grandes conhecimentos. Há uma vontade de chamar a atenção. É o que vemos na carta que enviou ao DCIAP [o órgão do MP responsável pela acusação] e nas segundas perícias em que falava abundantemente do seu deliro”.
O psicólogo chegou a exemplificar os alegados padrões de mentira de Abdul, concluindo que existia “uma habilidade em mentir”. E concluiu: “Se tivesse em pleno delírio, o arguido não seria caIculista, não escondia a faca” que usou para matar e ferir no centro Ismaili, “porque a violência dos esquizofrénicos é desorganizada”. Aliás, segundo o especialista, Abdul não terá esfaqueado “à toa“, tendo dirigido o ódio a pessoas muito concretas que com ele lidavam, assegurando-se que as conseguia matar, algo que segundo Vasco Curado, e também o coletivo de juízas, “não é próprio do esquizofrénico, mas de um psicopata sádico”.
Na decisão de condenação, o coletivo de primeira instância teve ainda em consideração o comportamento de Abdul ao longo das sessões de julgamento. “(…) o arguido manteve sempre uma postura atenta, interventiva, mas tranquila, querendo esclarecer e corrigir os depoimentos prestados. Até no que se reporta às concretas partes do corpo das vítimas que esfaqueou. Nunca transpareceu angústia ou medo. Nunca se emocionou. Pelo contrário”, lê-se no acórdão.
Durante o julgamento e mesmo após a condenação, o MP nunca se conformou com esta visão do tribunal. Na acusação, a procuradora do DCIAP Cláudia Porto, uma das maiores especialistas do MP em investigações de crimes violentos e de terrorismo, defendeu a inimputabilidade de Abdul Bashir tendo por base as conclusões de vários peritos psiquiatras. Sem esquecer que se tratava de alguém bastante perigoso, a procuradora defendeu sempre a inimputabilidade de Abdul dizendo que essa situação o devia colocar nunca menos de três anos num hospital ou “em estabelecimento adequado” e não numa prisão, por mais hediondo que tivessem sido os crimes cometido.
Depois da condenação em primeira instância, foi à mesma procuradora da acusação que coube fazer (nomeada expressamente pelo Procurador-Geral da República Amadeu Guerra) o recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, em que defendeu que o tribunal de primeira instância tinha feito um “erro notório na apreciação da prova, mais precisamente: o arguido, no momento da prática dos factos, estava sob o efeito psíquico e psicológico ao nível do pensamento da anomalia psíquica e perturbações da personalidade. Tal anomalia psíquica grave limitou-lhe totalmente a capacidade de discernimento (capacidade de avaliar a ilicitude desses factos) e de determinação (capacidade de agir de outro modo).”
Uma conclusão jurídica que mereceu a concordância dos procuradores do MP junto do TRL e do STJ. E que teve na base a avaliação técnica de um perito psiquiatra, João Oliveira, também do Instituto de Medicina Legal, e do próprio médico psiquiatra que passou a acompanhar Abdul quando este estava na prisão de Caxias. Nas 49 páginas do recurso a que o Exclusivo TVI/CNN Portugal teve acesso, Cláudia Porto foi muito contundente sobre o trabalho das três juízas da primeira instância que não declararam a inimputabilidade de Abdul Bashir. Com recurso a inúmera jurisprudência sobretudo sobre o poder técnico das análises periciais de doenças como a esquizofrenia por psiquiatras forenses, a magistrada do DCIAP escreveu: “O tribunal escolheu literalmente uma das perícias e fundou-se, (por ter feito uma opção como se tratasse de prova pericial com igual peso), na perícia sobre a personalidade (psicológica) e nos esclarecimentos do perito psicólogo, a que acrescentou apreciações subjetivas da prova, que extraiu do comportamento e declarações do arguido e de prova documental e testemunhal”.
A revolta dos médicos psiquiatras
O MP vincou no recurso que resulta da matéria de facto provada pelo próprio tribunal que o arguido padecia de uma anomalia psíquica, designadamente um quadro psiquiátrico de esquizofrenia, sendo que o coletivo terá ignorado o que o Regime Jurídico das Perícias Médico-Legais e Forenses determina que os exames e perícias de clínica médico-legal e forense: estas são realizadas por um médico perito, não por um psicólogo. Resumindo: o psiquiatra avalia doenças, o psicólogo trata da questão da perigosidade. “Os psicólogos não podem realizar diagnóstico de doenças mentais de base neurobiológica, não podem efetuar diagnóstico clínico e tratamento farmacológico e não atuam como perito médico com competência para avaliação da imputabilidade. Não lhes compete avaliar a presença de anomalias psíquicas, como a esquizofrenia, e determinar a sua consequência na capacidade de entender ou de se autodeterminar”, concluiu a magistrada do MP.
Ainda durante o julgamento, o próprio Instituto de Medicina Legal tentou que os dois peritos nomeados pelo tribunal se conciliassem, mas tal manifestou-se impossível, apesar de integrarem a mesma Unidade de Psiquiatria e Psicologia Forenses. Numa reunião com o MP e a coordenadora da unidade, Olindina Graça, os peritos ainda terão chegado a um pré-acordo, tendo a coordenadora se manifestado a favor do diagnóstico de inimputabilidade feito pelo perito psiquiatra, que fico encarregado de juntar ao processo um esclarecimento ao seu laudo. Isso foi realmente feito, mas o perito psicólogo não ficou convencido, tendo chegado a escrever à chefe a queixar-se do colega. O tribunal acabaria por optar pela versão do psicólogo, não considerando sequer a necessidade de uma perícia colegial para esclarecer de vez a questão da (in)imputabilidade de Abdul Bashir.
Logo a seguir aos dramáticos acontecimentos de 2023 no Centro Ismaili e quando os media avançaram que podia tratar-se de um ato terrorista, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, afastou de imediato essa situação e admitiu tratar-se de um “surto psicótico”, salientando que só uma perícia psiquiatra poderia avaliar o autor dos crimes. Anos depois, quando o tribunal de primeira instância usou um perito psicólogo para fundamentar a imputabilidade do arguido, mais de 30 psiquiatras fizeram um manifesto público dirigido ao bastonário da Ordem dos Médicos. “Quando o sistema judicial escolhe ignorar a ciência em nome de uma suposta racionalidade punitiva, transforma o diagnóstico em culpa e o sofrimento em castigo. (…) os médicos psiquiatras abaixo-assinados manifestam a sua profunda preocupação com esta decisão judicial, apelando a uma urgente reflexão pública sobre os riscos de uma justiça desinformada e impermeável à ciência”, escreveram os psiquiatras antes de concluírem: “Reafirmamos que a avaliação da (in)imputabilidade penal deve basear-se num juízo técnico-científico com fundamento médico-legal, conforme o exigido por lei, não sendo admissível substituí-la por juízos de valor, convicções pessoais ou pareceres psicológicos sobre a personalidade”.
A procuradora Cláudia Porto juntou este documento dos psiquiatras para ajudar a demonstrar o alegado erro do tribunal de primeira instância. Sofia Brissos, psiquiatra forense e subscritora do manifesto, recorda ao Exclusivo da TVI/CNN Portugal que os todos médicos envolvidos no caso concordaram que estavam reunidos os pressupostos de inimputabilidade: “A responsabilidade por aqueles factos não é da pessoa, é da doença. Se é a doença que têm a culpa, a pessoa não é culpada e não pode ser responsabilizada”. Independentemente do que a justiça venha a ditar para este caso, sobrará sempre a dor para a mãe da Mariana: “Ele levou o melhor de mim e isso ninguém traz de volta”.